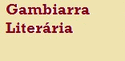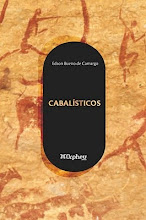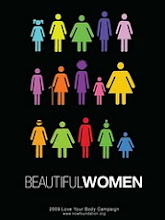O veio condutor do filme, onde a mocinha tenta convencer o alienígena a não destruir a humanidade, para mim carrega o maior dilema moral. Não saberia a princípio como agir nesta situação. Mesmo crente do potencial cultural da humanidade, como convencer alguma criatura não inserida neste contexto que não merecemos a extinção? Como se convencer diante de tantas provas ao contrário, que temos direito a uma segunda chance? Sempre falo, que se um alienígena com o poder e a missão de julgar a humanidade, andasse de carro pelo trânsito de São Paulo e em especial do Grande ABC (onde se insere minha cidade), chegaria este verdugo a conclusão que o animal chamado homem, por seu comportamento irracional, mesquinho e predatório, não mereceria existir.
No entanto, o filme é muito preso a um etnocentrismo, onde tudo acontece em um país do hemisfério ao norte do planeta, com uma população estimada em uns trezentos milhões de habitantes, quando a humanidade está em torno de seis bilhões. Existem culturas humanas totalmente inseridas na natureza, como os boximanes por exemplo: são uma nação que não consome produtos industrializados, não conhece a noção de propriedade (então segundo Proudhon, um povo livre de otários), a terra que ocupam não produz nada além de capim e víboras, vivem em condições de extremos, não abrem o capital de suas empresas e não negociam ações na bolsa de valores. Os alienígenas destruindo a humanidade, os nossos amigos sul africanos, sequer sentiriam a ausência dos cinegrafistas da National Geografic perturbando a sua rotina de caça e coleta, que devem realizar nos últimos seis milhões de anos, desde que um animal chamado homem existe. Nas mesmas condições estariam os ainus, no Japão pungente e progressista; os aborígenes da rica Austrália, que com sua arte mágica mantém as coisas onde devem estar desde o tempo dos sonhos; os lapões, próximos aos centros de excelência tecnológica dos povos nórdicos; as noções indígenas em todos os guetos e rincões das Américas, dos inuits do gelado Ártico aos últimos araucanos do Sul do Chile; dos ciganos; além, daqueles povos e culturas que esqueci e desconheço, mas que sei que existem, todos os povos acampados em situações precárias em zonas de conflito, refugiados, esfomeados e renegados e toda a sorte de perseguições, das massas de desempregados nas nações do terceiro mundo e das nações industrializadas, dos habitantes das ruas e toda a sorte de doentes mentais. Pela lógica do longa-metragem pagariam mais uma vez os inocentes, pelo pecado e ganância de uns poucos que enriquecem em Wall Street, que ali tem este nome devido a um muro segregador.
Apesar de tanto palavrório que coloquei até agora, o que me vem de fato na cabeça é a questão da massificação cultural que a globalização nos impõe. Um, que de fato isto está acontecendo. Dois, que não acredito que esta massificação tenha tanto poder assim o tempo todo. Sábado fui a um samba, feito em homenagem a Xangô da Mangueira, em um boteco entre pessoas espremidas para escutar samba de partido alto, com toda a reverência a sua recente viúva ali presente (não ouvi nem uma pequena notícia da morte da Xangô na grande mídia). Um barzinho pequeno em uma rua íngreme e tortuosa de um bairro popular de minha cidade, Mauá, em São Paulo, não foi no Rio de Janeiro não, cidade que tanto amo, mas que ingrata se recusa a idolatrar seu ilustre filho. Aqueles garotos (Projeto Samba de Terreiro de Mauá) tocando um samba que eles não deveriam compreender é uma resistência cultural que a “mass média” nunca vai alcançar. Tocam pelo prazer de tocar, ali de graça para todo mundo ouvir e quem quisesse se juntava à roda, batendo o ritmo na palma das mãos. Poderiam ser mais um grupo de pagode almejando o sucesso, o que seria justo, mas preferem manter seus empregos e dar sua cota de sacrifício pela manutenção de um bem cultural.
Penso que era isto que mostraria ao amigo alienígena, que existe uma resistência cultural aos valores de devastação que o capitalismo capitaneado por gafanhotos tentam nos empurrar goela abaixo. O ser humano é mais que os seus dominadores. Temos que deixar de viver pela lógica do opressor. Não existe opressão, mesmo esta insípida que nos é imposta, que dure para sempre. O ser humano é sempre criativo, haverá sempre um Oswald de Andrade a gritar pelas ruas, “Tupy or not Tupy”, a transformar o produto enlatado em um prato popular. A maior vitória destes parasitas da espécie humana é que nós acreditamos em nossa derrota. Agora entendo um pouco mais a lógica de Octávio Paz, quando ele fala que a humanidade se extinguiria com o fim da poesia.
Sem a poesia, não valeria a pena pedir ao estranho que não os exterminasse.